
Por André Derviche, Bruno Militão, Gabriel Guerra, Luana Franzão, Luana Benedito e Maria Luísa Bassan
O combate à pandemia de Covid-19 mostrou-se repleto de obstáculos. Ainda assim, a ciência concentrou-se em encontrar os melhores caminhos para ele. O uso de máscara e o distanciamento social viraram regra nesse momento como formas efetivas de evitar a propagação do novo coronavírus.
Porém, com mais de um ano de pandemia, a questão do isolamento social foi colocada em debate em diversos momentos, das medidas adotadas pelo governo até o comportamento da população. Muitas pessoas não têm permanecido em casa, pelos mais diversos motivos. Quais seriam as razões de quem desrespeita as medidas de isolamento social?
Débora Mendes*, de 28 anos, é moradora de um bairro do extremo sul da cidade de São Paulo e, depois de alguns meses de home office no início do surto da Covid-19 no Brasil, acabou se juntando à parcela da população que não teve a opção de trabalhar de casa.
Funcionária do setor financeiro de um escritório de advocacia na Vila Olímpia, ela é responsável pelo faturamento, contas e relatórios de gerências da empresa, funções que poderiam ser realizadas de maneira remota. “Depois de um tempo trabalhando remotamente, não tive mais a opção de ficar em casa e agora preciso ir todos os dias para o escritório”, conta ela. “Estou trabalhando desde setembro presencialmente e por conta disso acabei me acostumando com a rotina.”
Ela vai de ônibus à empresa, que fica a cerca de duas horas de sua casa, todos os dias, enfrentando, por falta de opção, grandes aglomerações para chegar ao trabalho. “Os ônibus vêm superlotados, além da demora para passar. No meu local de trabalho, pelo menos, é possível manter o distanciamento, usamos máscaras o dia inteiro e a empresa disponibiliza álcool em gel. Se tivesse a opção, escolheria trabalhar de casa, pois me sinto mais protegida; não pelo meu local de trabalho, e sim pela lotação do transporte público.”
Valéria Mastrantonio*, de 19 anos, trabalha no mercado de eventos de uma grande empresa de bebidas energéticas. Apesar de ter a opção de trabalhar remotamente todos os dias, ela prefere pedir um Uber até o escritório onde trabalha, a quinze minutos de sua casa, duas ou três vezes por semana.
“Me preocupo com a possibilidade de contaminação por Covid, porém cheguei em um nível emocional em que prefiro ir presencialmente e correr o risco do que continuar 100% trancafiada em casa”, explica ela. “Em casa, por conta de problemas pessoais, acabo sempre tendo atribulações que afetam realmente meu rendimento no trabalho”, completa.
Mas o medo de ficar em casa não é o único fator que impede as pessoas de manterem o isolamento social. Ao abrir as redes sociais, é possível ver que o lazer é um dos motivos que tira as pessoas de suas casas diariamente.
“Quando ficamos diariamente expostos ao vírus, como por exemplo em um ônibus lotado, acabamos nos acostumando e com isso não ficamos com tanto receio de ir em um barzinho, parque ou até mesmo em um jantar”, conta Débora Mendes.
Em um nível ainda maior de perigo no que diz respeito aos riscos de disseminação do vírus estão as festas clandestinas, que muitas vezes contam com enormes aglomerações, desafiando todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde para prevenção da Covid-19. A página do Instagram “Brasil Fede Covid”, autointitulada de “veículo de comunicação criado para denunciar os macabros momentos de confraternizações clandestinas/ilegais entre os brasileiros”, ganhou grande visibilidade por postar constantemente vários vídeos desses tipos de evento, que acontecem mesmo em meio aos períodos mais críticos da pandemia no Brasil.
Esses não são os únicos exemplos de descumprimento da quarentena. A pandemia da Covid-19 foi declarada uma realidade pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 11 de março de 2020, e logo no início o isolamento social foi recomendado como forma efetiva de combate à pandemia. Nessa época, o Brasil alcançou uma taxa de isolamento de 63,2% de acordo com a In Loco.
Com o passar do tempo, essa taxa foi caindo, e a medida perdeu o sentido para alguns por diferentes razões. Em fevereiro de 2021, a porcentagem atingiu o mínimo de 31,1%. Neste mesmo período, um novo crescimento no número de casos do novo coronavírus tomou forma, culminando no momento mais grave da pandemia até então, em março de 2021, em que a média móvel de óbitos diários bateu o recorde de 2.255 no dia 22.

O que leva as pessoas a furarem a quarentena?
Num contexto de forte disseminação da Covid-19 e estresse do Sistema Único de Saúde (SUS), seria fácil pensar que quem está saindo de casa sem necessidade, deixando de usar máscaras em espaços públicos ou participando de aglomerações não tem empatia ou não se importa com o bem estar do próximo.
Mas Maria da Graça Marchina Gonçalves, professora do curso de Psicologia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), explica que a questão é muito mais profunda.
Mesmo que se fale em valores como solidariedade, empatia e noção de bem comum, essas são apenas figuras retóricas, diz ela. “Nossa sociedade contemporânea tem pouco espaço para esses valores, eles são pouco vivenciados e incentivados coletivamente”, explica.
Os valores que predominam são os que defendem o indivíduo, seus desejos e suas necessidades, e isso, segundo ela, tem raízes históricas. A constituição da sociedade brasileira é marcada por desigualdade e violência. “É muito difícil convencer as pessoas a fazerem algo pelo bem de todos, até porque esse ‘todos’ é marcado por desigualdades profundas que carregamos”, aponta.
Desse individualismo, entende-se que há, portanto, responsabilidades individuais, referentes às escolhas que cada um faz, ao que cada um resolve adotar como seus valores.
No entanto, Gonçalves ressalta que essas escolhas ocorrem em um contexto social e histórico e são influenciadas por ele. “Dizemos que, na sociedade, no contexto das relações sociais, ‘circulam’ significações que são compartilhadas – ao mesmo tempo são escolhas individuais mas também produções sociais que se impõem em função de determinados interesses, ou que têm menos espaço porque representam grupos minoritários.”
Sobre a aparente falta de empatia, a professora aponta que existe ainda uma tendência das pessoas a se protegerem emocionalmente, a fim de evitar o que causa sofrimento. “Às vezes, há mesmo certo amortecimento dos sentimentos de compaixão, de reconhecimento do sofrimento do outro, porque é uma situação difícil. Além disso, a depender de como a mídia veicula as informações e análises, esse tipo de postura se desenvolve ainda mais”, esclarece ela.
Apesar de causado por uma causa “natural”, de um vírus, a professora afirma que vivenciamos um desastre social, o que requer enfrentamentos organizados e coletivos. “Por isso, não é possível falar de ‘saúde mental’ fora de um contexto ou referida apenas a indivíduos tomados de forma abstrata e descontextualizada.”
Maria da Graça Gonçalves conclui afirmando já existirem diversos estudos psicológicos que atestam com clareza como esta situação afeta profundamente a subjetividade e a individualidade. No entanto, considera que o foco principal deve ser a compreensão dessas manifestações na sua relação com o contexto social. “É preciso reconhecer, sim, que tamanho desastre social provoca sofrimento, mas que o enfrentamento deve ser para além de cuidados individuais – deve focar ações de organização e respostas coletivas”, completa.

Nesse contexto, destacam-se os fenômenos da internet e das redes sociais. Com a quantidade massiva de publicações geradas e compartilhadas diariamente pelas mais diversas fontes, Ivan analisa que um filtro sobre a qualidade dessas informações é difícil de ser realizado, o que, neste momento de crise sanitária, pode dificultar o acesso da população a formas de prevenção e combate ao vírus. “As informações que circulam nesses espaços dependem muito da curadoria dos seus pares. Você pode ter pessoas que estão em uma conjuntura de acesso à rede social bastante limitada.”
Vale mencionar que, até o fim de 2021, o Brasil deve ser acometido pela expansão das classes D e E. É o que aponta um estudo da MB Associados. Atualmente, levando em consideração um levantamento de 2018 do Cetic.br, departamento ligado ao Comitê Gestor da Internet (CGI), 85% dos cidadãos dessas classes utilizam internet só pelo celular e com pacotes limitados. De acordo com Ivan, o acesso precarizado à rede de dados está diretamente ligado à falta de acesso à informação de boa qualidade.
De um outro lado encontra-se o governo. “Foi uma conduta negacionista. Desde o início da pandemia vemos diversas falas focando em não dar a atenção devida à gravidade dessa doença. A conduta foi irresponsável e isso nós falamos com base no resultado que estamos vendo agora, de recordes no número de mortes e novos casos”, relata a doutora Tatiane Ribeiro, mestre em saúde coletiva e uma das relatoras do boletim “Direitos na Pandemia”, do Centro de Estudos e Pesquisas de Direito Sanitário da USP.
A afirmação de Tatiane refere-se à atuação do governo federal. O presidente Jair Bolsonaro também protagonizou embates diretos com o governador de São Paulo, João Doria. As pautas dos atritos passaram pela institucionalização de medidas mais restritivas de isolamento social e a aquisição de doses de vacinas, dois fatores aos quais o presidente mostrou-se contrário em certos momentos.
“Estamos, infelizmente, em um espaço privilegiado para o negacionismo e o individualismo, que vão ao encontro dos sentimentos de muitas pessoas. Isso é perigoso também porque essas posturas podem estar a favor de ideologias mais consistentes, que favorecem o status quo e a perpetuação das desigualdades; ou seja, não são apenas idiossincrasias de certas autoridades do momento”, afirma a psicóloga Maria da Graça Marchina Gonçalves.
Do ponto de vista discursivo, Ivan Paganotti avalia esse conflito de narrativas e os seus efeitos: “A fragilidade foi essa comunicação que poderia combater o cenário de instabilidade. Uma comunicação bem organizada, bem centralizada das autoridades. Alguns indivíduos acabam escolhendo qual fonte de informação seguir. Se você quer ficar em casa, você vai ouvir quem diz para você ficar em casa. Se você quer sair, você vai escolher as fontes que dizem que tudo bem sair. Cria-se uma situação em que você tem uma autoridade à la carte”.

#FiqueEmCasa
É preciso entender o papel do isolamento social no contexto da pandemia. Alexandre Naime Barbosa, chefe do Departamento de Infectologia da Universidade Estadual Paulista (Unesp), coordenador do ambulatório, enfermarias e do grupo técnico-científico Covid do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina Botucatu (HC-FMB) e consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia para Covid-19, explica que evitar que as pessoas se encontrem é a proteção mais eficaz contra qualquer vírus respiratório.
“Quando se chega em um momento crítico em qualquer pandemia por vírus respiratório, isso acaba levando ao colapso do sistema de saúde. As medidas de restrição de circulação se fazem necessárias, pois possuem evidência científica em evitar a circulação de vírus de transmissão respiratória. Ao impedir que as pessoas se encontrem, impede-se a transmissão. Ao ignorar isso, chegamos ao que está acontecendo no Brasil”, afirma.
Ele esclarece também que o uso de máscaras não é o suficiente para frear o contágio em progresso, e que a quarentena ainda é a melhor forma de evitar o espalhamento do novo coronavírus. “Somente o uso da máscara não impede que haja transmissão do vírus, porque a eficácia é limitada. Então você tem que associar o uso de máscara, o distanciamento social, a higiene das mãos e a vacina — ou o isolamento social completo, o lockdown”.
Quem são as pessoas que estão fazendo o isolamento?
Priscilla Liang, estudante de design, é uma das pessoas que estão seguindo o isolamento social desde o começo da pandemia. Ela conta que, mesmo com o avanço da Grande São Paulo para a fase verde de retomada das atividades em outubro do ano passado, ela não se sentiu segura para sair de casa. O sentimento que fica é o de frustração.
“Eu não conseguia nem acompanhar mais os noticiários. A única coisa que eu sabia era que ainda estávamos numa pandemia”, ela aponta. Em casa há quase um ano, ela compartilha que a maior dificuldade tem sido manter a saúde mental. “Tive que começar a fazer terapia e acompanhamento psiquiátrico, o que me ajudou muito e agora posso dizer que consigo enfrentar isso de forma mais leve”.
Mesmo estando cansada de ficar em casa, ela afirma achar irresponsável e insensível a decisão de desrespeitar o isolamento para se reunir com grandes grupos de amigos ou família. “Falta consideração com os outros ao redor. As pessoas deveriam pensar se a vontade de ir a uma festa é tão urgente a ponto de ignorar completamente o que está acontecendo no país”, encerra.
A estudante Rebeca Lima estava em São Paulo quando o governo do Estado determinou a quarentena, então decidiu retornar à sua cidade natal, São Luís (MA). Nas celebrações de final de ano, ela não encontrou nenhum outro parente além da família próxima pois sentia-se em risco, já que “eles não tomaram muitos cuidados durante a quarentena”. Rebeca, porém, observou pessoas próximas descumprindo as medidas de isolamento, o que a fez cortar contato com várias delas. “Fico muito chateada com o egoísmo e falta de empatia alheia nesses casos”, comenta.
Segundo a professora Maria das Graças Marchina Gonçalves, pessoas isoladas ficam reféns dos próprios sentimentos e não conseguem ampliar a visão, compreender o desastre de forma geral, perceber como afeta a todos, elas terminam por perder a dimensão do próprio sofrimento, supervalorizando-o ou subestimando-o. “Nem uma coisa nem outra é boa. É preciso estabelecer referências coletivas. Apesar de haver uma sensação de que ‘somos bobos’ por mantermos as restrições e seguirmos os protocolos sanitários enquanto muita gente não faz isso, é preciso seguir o caminho apontado: organização, formação de grupalidades, troca de experiências e criação coletiva de formas de resistência.”
Jorge Penillo, morador de Cotia, em São Paulo, planejou passar o fim de ano em Caraguatatuba, no litoral paulista. Ele aponta “a flexibilização das regras de distanciamento social” e “o desmonte dos aparelhos públicos para fazer frente a Covid-19 por falta de pacientes” como motivos para a família passar o fim de ano na praia. Entretanto, eles desmarcaram a viagem por conta do lockdown decretado pelo Estado no fim de ano. Para Jorge, o cenário de aumento dos casos de coronavírus no país é resultado da irresponsabilidade de autoridades públicas na realização das eleições municipais: “O vírus em nenhum momento deu trégua, o que baixou foi a régua de medição pública, para possibilitar a realização das eleições”, afirma.
Sensação de impotência e desespero
Em um domingo, no dia 17 de janeiro de 2021, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o uso emergencial de duas vacinas contra a Covid-19: a Coronavac, fabricada pela chinesa Sinovac e testada no Brasil pelo Instituto Butantan, que integra a USP, e a fabricada pela parceria entre a farmacêutica britânica AstraZeneca e a Universidade de Oxford, testada no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).
Nesse mesmo dia, a primeira pessoa foi vacinada no Brasil. Mônica Calazans, mulher, negra, enfermeira no Instituto Emílio Ribas — hospital de referência no tratamento da Covid-19 — e com comorbidades, recebeu a primeira dose da Coronavac, transmitida ao vivo para toda a cadeia televisiva do Brasil. Neste dia, muitos brasileiros lembraram-se de que a pandemia teria um final, e tiveram a impressão de que poderia estar próximo. Essa sensação acabou causando a liberdade em algumas pessoas de romper o isolamento social, na expectativa de imunização.
O professor e médico Alexandre Naime relembra a gravidade dos fatos. As vacinas que já estão em uso no país não impedem a transmissão do SARS-CoV-2, mas sim impedem o desenvolvimento de formas graves da Covid-19, de forma que a proteção contra a doença se faz necessária enquanto a imunidade coletiva não for atingida.
“Nós não temos o percentual de pessoas vacinadas que nos permita falar em imunidade de rebanho. Nós precisaríamos ter entre 60% a 70% da população vacinada para poder começar a pensar em proteção coletiva. No momento, não chega a 5%. (…) Eu não imagino que antes do final do ano a gente tenha nada próximo à metade da população vacinada”, declarou.
Enquanto o mundo vê os números de infecções pela Covid-19 diminuírem, o Brasil assiste o desenrolar do pior momento da epidemia. Com o colapso do sistema de saúde e a negligência de parte da população com as medidas de prevenção, os profissionais da linha de frente do combate à doença se esgotam.
“Eu trabalho em um hospital de referência, sou chefe de serviço, e nós estamos com uma rotina exaustiva. Exaustiva do ponto literal da palavra, de burnout, de esgotamento. Porque é praticamente o que a gente chama de ‘enxugar gelo’: você dá alta para três e chegam seis. A nossa fila de espera, cada vez maior. Você coloca pacientes na enfermaria, você coloca pacientes na UTI, muitas vezes os pacientes têm alta e se recuperam, outras vezes não. Com nenhuma perspectiva de mudança de cenário, cada vez mais nós temos aumento no número de casos, aumento do número de óbitos e a vacinação nesse ritmo lento. Além da exaustão e do cansaço, fica uma falta de perspectiva de que isso não acabe, nos dá uma sensação de impotência, de desespero, de que isso não vai mudar tão cedo, e eu realmente fico preocupado com a minha equipe. Uma hora as pessoas vão simplesmente desistir — e já está acontecendo”, espairece.
*Nome fictício, pois a fonte preferiu não ser identificada



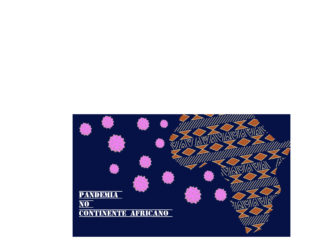
Faça um comentário