
Por: Ana Gabriela Zangari Dompieri, Crisley Santana, Daniel Terra e João Gabriel Batista
Uma empresa precisa ter a garantia de que seu produto é seguro ao consumidor e que não causará nenhum tipo de alergia, seguindo todos protocolos exigidos pelas agências sanitárias. E, para isso, é preciso uma investigação nos componentes desses produtos para observar possíveis reações no usuário. No começo do século 20, pesquisadores utilizavam animais para verificar essa reação alérgica com o pressuposto de que se causa alergia no animal, provavelmente causa no ser humano.
Os esforços para o fim de testes em animais na ciência e na indústria da beleza têm se tornado mais recorrentes e eficazes a cada ano devido ao avanço da tecnologia. Além disso, a comunidade vegana está há um bom tempo pressionando empresas de cosméticos para o uso de métodos alternativos em suas pesquisas, ganhando destaque na Inglaterra, na década de 80, a partir de divulgações de ativistas sobre a crueldade que os animais eram submetidos na indústria cosmética.
Assim, o número de vegetarianos e veganos cresce à medida que se faz presente numa geração preocupada em reduzir os impactos socioambientais do consumo. Grande potencializador desse processo é o mundo digital, em que diversas plataformas e produtores de conteúdos disponibilizam e propagam ideais conscientes e provocadoras. Exemplo disso é o Portal Vista-Se ― um projeto idealizado em 2007 pelo digital influencer Fábio Chaves ― que se tornou o maior site sobre a causa vegana e direitos dos animais na América Latina. Além disso, o veículo disponibiliza uma tabela com listas de empresas e a sua situação referentes aos animais. Ou seja, se elas usam em seus produtos ingredientes de origem animal, se fazem testes e se há eventos cruéis.

Desde os anos 80, então, a demanda do público consumidor por tratamento digno aos animais nas empresas só cresceu. Seguindo a lógica do mercado capitalista, algumas delas buscaram se adaptar e expor essa mudança por meio da publicidade e do marketing.
Pensando nisso, esta reportagem busca avaliar as possibilidades de desenvolvimento de pesquisa sem teste em animais. Aborda também, como as empresas podem se apropriar dessa ciência, para garantir em seus produtos a mesma garantia de qualidade e eficácia.
Regulação do uso científico
Na virada do ano de 2007 para 2008, a comunidade científica como um todo foi pega de surpresa. Na ocasião, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro tinha aprovado um projeto de lei que proibia o uso de animais para fins de pesquisa científica. O projeto era de autoria de Cláudio Cavalcanti, ator e vereador pelo Democratas (DEM). Caso a lei se mantivesse, instituições como a UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) e a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) teriam suas atividades gravemente comprometidas e, à época, cientistas dessas instituições chegaram a afirmar que descumpririam a lei caso o governo não voltasse atrás.
Enquanto isso, há mais de 10 anos, tramitava no Congresso Nacional o Projeto de Lei 1153/1995, de autoria do deputado Sérgio Arouca. Formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo em Ribeirão Preto, Sérgio Arouca foi também político com ampla atuação na área de saúde pública. Diante do impasse gerado por Cavalcante, o projeto de lei, mais conhecido como Lei Arouca, que até 2008 permanecia inerte na corte parlamentar, foi logo visto como uma conciliação entre os interesses de ativistas protetores dos animais e da comunidade científica.
Pressionados por entidades como a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e a Federação das Sociedades de Biologia Experimental (Fesbe), os deputados desengavetaram o projeto, que virou lei em 8 de outubro daquele mesmo ano. Sua proposta principal era regulamentar o uso de animais para fins científicos.
Atingindo apenas animais vertebrados, tais como peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, a Lei Arouca estabelece que a atividade científica com tais seres estará restrita ao ensino superior, além de tornar obrigatório o credenciamento de toda instituição de pesquisa que fizer uso de tais seres.
Entre as principais medidas da lei, destaca-se a criação do Concea (Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal). Composto por 14 membros representantes de instituições políticas (como o Ministério da Ciência e Tecnologia), científicas (como a Academia Brasileira de Ciências) e protetoras dos animais, o Conselho tem como principal função garantir o tratamento humanitário a esses seres nas áreas de ensino e pesquisa. Também não escapa às atribuições do órgão o incentivo a “técnicas alternativas que substituam a utilização de animais”.
“Substituam” não é um termo empregado ao acaso. Essa diretriz é um sinal claro da influência do Princípio dos 3 R’s sob a criação do Concea. Em tradução do inglês, os R’s significam redução (reduction), substituição (replacement) e refino (refinement). Traduzindo agora para o dia a dia do cientista, tais palavras implicam em ações como o maior cuidado com a qualidade genética dos animais, gerando diminuição de indivíduos; no maior uso de computadores para simular processos fisiológicos; e na melhora da eficiência dos experimentos, a fim de causar o menor dano possível aos seres.
“Tem que seguir os 3 R’s”, concorda Regina Pekelmann Markus, professora do Instituto de Biociências (IB) da USP. Apesar de ter visto enorme progresso quanto ao uso de animais em laboratórios, segundo Regina, eles ainda são imprescindíveis para o progresso científico. “Para se estudar a vida, é preciso ter o vivo. Faço muita coisa in vitro, em sílica, tudo sem usar animais. Mas na hora de finalizar a pesquisa, preciso do ser vivo. E aí a gente precisa de animais de laboratórios, sim”.
Membro do Concea em seus primeiros anos, ela acompanhou de perto a promulgação da Lei Arouca. Quando questionada sobre o que seria o responsável por promover a diminuição de animais para fins científicos, Regina diz que a ação do ativismo não foi relevante: “Com os anos, independente da questão de proteção animal, a partir da década de 1930 [o uso de animais] vai caindo, porque melhora a tecnologia química, a biofísica, entra a nanotecnologia. E cada vez mais conseguimos fazer dosagem com maior acurácia e com menos custos, e a coisa mais custosa é usar animais de laboratório”.
Entre suas áreas de estudo, aquela que trata sobre processos inflamatórios e infecciosos é exemplo da forma como a pesquisadora utiliza animais de laboratório. O animal não é como o homem. “Então como podemos saber se ele está bem?”, questiona a professora. Em seguida, ela explica como contorna esse problema: “Existe um hormônio que é o cortisol. Em ratos, ele é liberado todo dia no final da tarde”. Também conhecido como “hormônio do estresse”, sua liberação é mapeada e pode ser observada uma curva de normalidade. “Se a gente dosa esse hormônio durante o dia e ele está baixinho nas horas em que deve estar baixinho, significa que o rato está confortável. Porém, se houver uma infecção, se ele estiver vivendo em condições de extrema desvantagem, o hormônio vai apresentar uma variação anormal. Portanto, quimicamente é possível saber se o animal está bem ou não. E na minha opinião isso é o mais importante porque eu não tenho como avaliar o sorriso do rato”, conclui Regina.
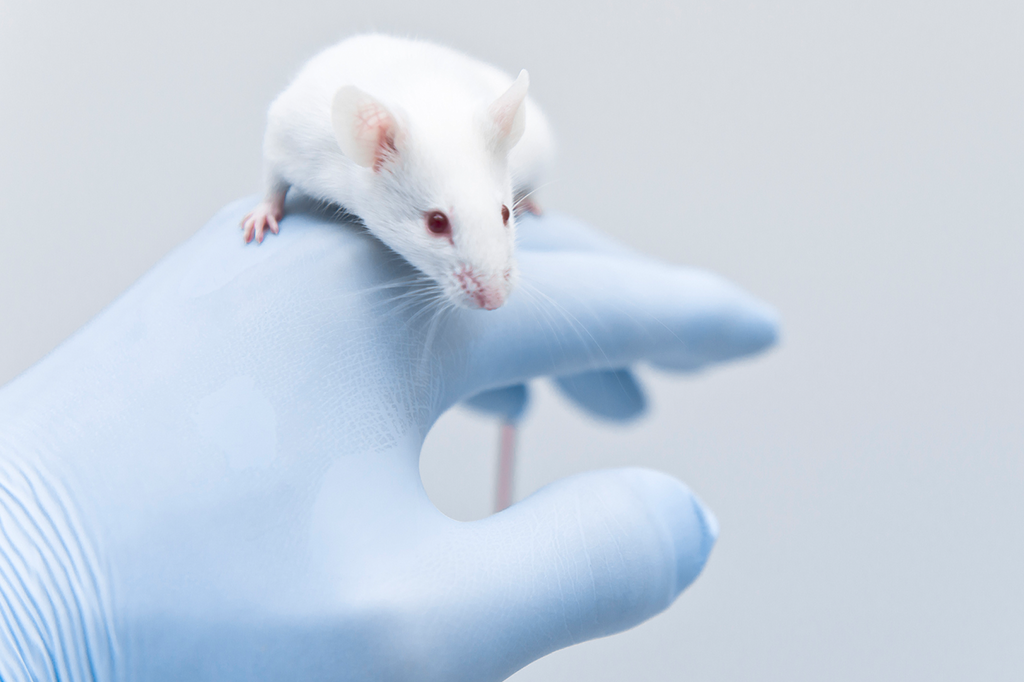
“[Todo animal] precisa de limpeza, comida e de contato. Isso é básico. E isso o Concea pede e reforça de modo muito positivo”, afirma Regina. Em setembro de 2015, através da Resolução Normativa Nº 25, o Concea apresentou o Guia de Produção, Manutenção ou Utilização de Animais. Nele, são detalhadas as “estruturas mínimas necessárias às edificações em que os animais são criados, mantidos ou submetidos aos experimentos, bem como os equipamentos necessários para mantê-los com qualidade sanitária e bem-estar”.
A ciência e suas possibilidades
Apesar de em alguns casos, o uso de animais ainda ser frequente, diversas pesquisas feitas no Brasil, e no mundo, provam que há outros métodos de análise. O investimento em ciência, portanto, é promissor, haja vista as possibilidades que apresenta.
Eduardo Pagani, gestor de desenvolvimento de fármacos do Laboratório Nacional de Biociências do LNBio/CNPEM e membro da Câmara Técnica de Fitoterápicos da Anvisa, em entrevista à Agência Fapesp, apresenta duas grandes áreas de alternativas ao uso de animais em pesquisa. Testes in vitro ou em vidro e simulações de interações moleculares em computador, nas quais, uma base de dados é acessada com informações de drogas já testadas e busca semelhanças com novas substâncias. A partir disso, o pesquisador verifica a possibilidade de obter resultados próximos. Tanto de toxicidade, absorção e eficácia para determinadas indicações.
Baseado nisso, muitas empresas têm modificado sua estrutura para adotar alternativas ao uso de animais nos testes. Embora o debate ainda não seja fortemente acalorado, possuímos exemplos de empresas que se beneficiam do método, como a Natura, produtora brasileira de cosméticos.
Pioneira no uso de pele artificial
No Brasil, uma das primeiras marcas a adotar o conceito Cruelty Free (livre de crueldade, em tradução) foi a Natura. Este conceito implica no banimento do uso de animais em qualquer pesquisa. A discussão ainda era pouca no país quando a produtora de cosméticos decidiu aderir o termo em suas ações. Em entrevista ao portal de notícias G1, a diretora de inovação Roseli Campos conta que a transição ficou mais evidente em 2003, quando decidiram parar de testar os produtos finalizados em animais, para então, em 2006, bani-los em todas as fases de desenvolvimento.
Para que isso fosse possível, adotou outra forma de avaliação dos cosméticos: a pele 3D. Este modelo envolve uma série de etapas para ser finalizado. A primeira delas consiste em uma análise “robótica”, o chamado teste in silico. Por meio dele, os cientistas podem ver o desenvolvimento de problemas de saúde por um software que imita a biologia humana.
Esta ferramenta permite que a estrutura química dos ingredientes presentes nos cosméticos seja explorada. Ela realiza uma probabilidade de risco que o ingrediente possui, baseado no que “conhece” de nossa biologia. Também realiza estimativas da capacidade de um ingrediente causar aumento de colágeno, alergia e fibras elásticas na pele. Finalizada a fase computacional, aí sim os ingredientes serão testados na pele artificial para avaliar os pontos negativos e positivos dos componentes presentes nos cosméticos.
Para o desenvolvimento material dela, o chamado teste in vitro, é utilizado uma cultura celular desenvolvida sob condições ideais de umidade, oxigênio e gás carbônico, o que garante ao modelo artificial o mantimento de grande parte das propriedades fisiológicas, bioquímicas e genéticas das células. Para isolar essa cultura, os pesquisadores utilizam sangue, fluídos corporais e peles de doadores que realizaram procedimento cirúrgico.

Sendo alimentadas com substâncias próprias para o seu crescimento, além de sais, e sendo isoladas, como bactérias, essas culturas de células são transformadas em protótipos de duas camadas da pele humana: a epiderme (camada externa) e a derme (camada interna). O processo de confecção das camadas dura cerca de 15 dias.
A qualidade e eficácia dos ingredientes presentes no produto, além de possível toxicidade, são analisadas a partir do modelo de pele completo. Nele, os cientistas investigam se haverá morte celular com o uso (citotoxidade), se a presença do sol torna o produto perigoso para a pele (fototoxidade) e se pode haver desenvolvimento de câncer nas células por meio do uso contínuo (mutagenicidade).
Após de feitos os testes in silico e in vitro, os cientistas chegam a conclusões sobre a quantidade de ingredientes que o produto pode ter, levando em consideração o público a que se destina, frequência de uso e tipo do produto. A última fase, se dá em pessoas que se voluntariam para realizar os testes.
Através desse uso, a Natura passou a ser reconhecida como empresa favorável aos direitos dos animais por instituições internacionais como a norte americana Peta (People for the Ethical Treatment of Animals) e a inglesa Cruelty Free International, ainda que não seja 100% vegana ― dois componentes de origem animal ainda são permitidos nos produtos, a cera de abelha e a lanolina (substância presente na lã das ovelhas).
O papel das empresas
Existe uma relação estreita entre as demandas da sociedade e o oferecido pelo mercado. Hoje em dia, por conta do crescimento do número de veganos, vegetarianos e defensores dos animais, parece ser um bom negócio para empresas ter uma imagem de preocupação com a causa. Muitas empresas de cosméticos de sucesso surgiram sobre a premissa do “animal friendly” ou se adaptaram para ela, como a Feito Brasil, a Lush e a Lola Cosmetics. Mas nem sempre os consumidores têm acesso direto às informações da companhia, de forma que a sua reputação depende muito da ação publicitária, que existe, entre outras coisas, para desenhar o perfil e os valores da empresa no mercado.
Existem empresas, no entanto, que investem na disseminação da sua imagem vinculada a alguma bandeira da atualidade (como o veganismo, o feminismo, os movimentos LGBTQ+ e negro) sem de fato aplicar os conceitos que defende nas propagandas. Segundo Mitsuru Higuchi Yanaze, que é doutor em Ciências da Comunicação e professor da Escola de Comunicação e Artes da USP nas áreas de publicidade e marketing, é função do publicitário apontar essas incompatibilidades e falhas. Veja um trecho da entrevista concedida à AUN em que ele fala sobre desafios do profissional real da comunicação:
Mitsuru afirma que toda empresa tem atributos tangíveis e intangíveis perante os consumidores. “A percepção de valor [da empresa] não vem só dos atributos tangíveis, por meio um produto de qualidade boa, de embalagem bonita, mas também vem da chamada percepção emocional da marca; é a questão das loving brands, as marcas queridas pelas pessoas”. A preocupação com os animais é um exemplo de valor intangível, bem como a social ou ambiental, a tradição e o vínculo com o esporte.
De acordo com o professor, as empresas devem agregar os dois, desde que os intangíveis tenham respaldo em fatos tangíveis, reais. “A empresa pode agregar suas ações a esse panorama geral de valor, desde que ela realmente aja no sentido que diz. O que não pode é ser fake; dizer que faz e não fazer. Caso faça, é mais do que justo que a sua equipe de comunicação inclua esses atributos intangíveis”, avalia o professor“. Muitas empresas investem um real em um programa social e dois para mostrar que está investindo. Esse é o grande problema”.
Empresas adequadas ao discurso presente, por exemplo as de cosméticos que vêm se engajando na preocupação com os animais, são percebidas, conscientemente ou inconscientemente pelo consumidor, como instituições que estão indo além do seu papel direto de vender e lucrar. “Um empresário, mesmo que tenha o objetivo meramente financeiro, de ganhar dinheiro, indiretamente ou diretamente, deve considerar os impactos que sua empresa trará para a sociedade, positivos ou negativos”.
Ele considera que a parte das empresas que formalizam essas preocupações têm, pelo menos a princípio, “missão, visão e valores” e o desafio é mantê-las durante as operações. Quando eles são levados adiante, a empresa deve reagir os ajustando, ao longo do tempo, à agenda da sociedade, ou seja, os temas escolhidos por parcelas significativas dela, de forma que a empresa participe desse movimento ― como, na atualidade, a luta pelos direitos dos animais.
Yanaze comenta, no entanto, que o posicionamento em favor das causas vigentes na sociedade “deve ser colocado de forma sutil e sábia, e não explícita. Os esforços muito escancarados muitas vezes denotam que a empresa está colocando aquilo, porque, na verdade, não consegue comunicar, ou seja, tornar comum seu posicionamento de outra forma. É, na minha opinião, uma estratégia ruim.”
As empresas, em princípio, não servem apenas a seus proprietários. Mitsuru traz a perspectiva incomum de que, por usufruírem de recursos sociais, tais como espaço, isenção de impostos e os próprios consumidores, o papel das empresas é agir, também, em retorno à sociedade. Hoje elas são obrigadas a emitir um balanço patrimonial e social.
Mitsuru critica a forma com que o social é feito, como um relatório que não compara aquilo de que a empresa usufrui socialmente em contraponto ao retorno social que ela provê, de forma que não é possível averiguar se há realmente uma preocupação da empresa em agir pelo todo. Ele também apresenta um projeto passado seu que seria uma possibilidade de como analisar a função cidadã das empresas. Dessa forma, apesar da questão animal não ser demanda de toda a sociedade, a emergência de uma propaganda “animal friendly” não pode ser feita sem transparência por parte das empresas.
Ouça trecho da entrevista:




Faça um comentário